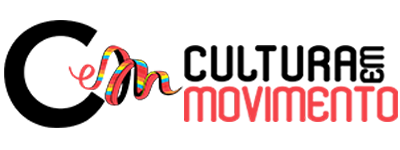Um instituto que mantém viva a memória do horror da escravidão no Brasil
Um instituto que mantém viva a memória do horror da escravidão no Brasil
“No meio deste espaço havia um monte de terra da qual, aqui e acolá, saíam restos de cadáveres descobertos pela chuva”. A descrição, feita pelo viajante alemão G. W. Freireyss, traduz o que é considerado o maior cemitério de escravos das Américas, onde eram enterrados os pretos novos, escravos recém-chegados da África que não aguentavam os maus tratos da viagem e tinham os corpos jogados em valas e queimados.
A análise do sítio constatou que a maior parte dos ossos pertence a crianças e adolescentes. Estima-se que tenham sido enterrados de 20 a 30 mil pessoas, embora nos registros oficiais esses números sejam menores, 6.122 entre 1824 e 1830. Além de ossos humanos, havia também pertences dos pretos novos, restos de alimentos e objetos de uso cotidiano descartados pela população.
O cemitério funcionou de 1772 a 1830, no Valongo, faixa do litoral carioca que ia da Prainha à Gamboa. Anteriormente, ele funcionou no Largo de Santa Rita, próximo de onde também se localizava o mercado de escravos recém-chegados. O vice-rei, marquês do Lavradio, diante dos enormes inconvenientes da localização inicial, ordenou que mercado e cemitério fossem transferidos para o Valongo, área então localizada fora dos limites da cidade.
Hoje conhecido como Cais do Valongo, o local entrou para a história como um ambiente de horrores, que remete a um dos mais graves crimes contra a humanidade, a escravidão no Brasil. O local tinha duas vertentes, uma delas era a comercialização daqueles que sobreviviam à viagem e a outra era o “enterro” dos que não sobreviviam.
O sítio arqueológico foi descoberto pela família Guimarães dos Anjos, em 8 de janeiro de 1996, quando reformavam a casa, e seguiu com as pesquisas arqueológicas que identificaram milhares de fragmentos de restos mortais de jovens, homens, mulheres e crianças, africanos recém-chegados.
Hoje a casa funciona como centro cultural para o resgate da história da cultura africana. O IPN foi fundado em 13 de maio de 2005 com a finalidade de valorizar a memória e identidade cultural brasileira em Diáspora. Ele é um lugar de resistência que nos faz questionar os nossos valores e firma em nossa memória a responsabilidade de cada um de nós para que essas situações não se repitam. Ao visitar o IPN, você consegue conhecer um pouco da história da escravidão naquela região, assim como ter contato com alguns artefatos encontrados durante as escavações.
Símbolo do horror
Certamente o que mais impacta o olhar do visitante na pequena área de exposição é o corpo de uma jovem africana sequestrada para ser comercializada no Rio de Janeiro que foi carinhosamente apelidada pelos pesquisadores de BAKHITA (bem-aventurada, em dialeto núbio – Sudão). O nome foi dado em homenagem à padroeira dos sequestrados e escravizados, Santa Josefina Bakhita, a primeira santa africana, canonizada em 2000 pelo Papa João Paulo II. Segundo relatos dos pesquisadores do IPN, o esqueleto pode revelar condições de saúde e stress físico que essa jovem africana foi submetida em sua curta vida dos séculos XVIII e XIX.


- Feira Nacional do Podrão estreia em Nova Iguaçu - 24/02/2026
- A Arena Bangu apresenta “Ressaca do Monobloco” - 24/02/2026
- Taiguara se apresenta neste sábado na Acaso Cultural, às 20h - 24/02/2026